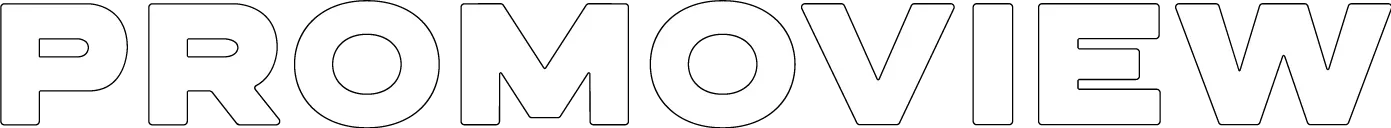O pós-pandemia trouxe à indústria de eventos uma silenciosa — porém notável — tendência: ocasiões corporativas e de trade vêm sendo frequentemente batizadas (ou renomeadas) “festivais”. Essa premissa tem nome: “festivalização”. E ela busca infundir em congressos e feiras mecanismos de entretenimento e engajamento, típicos de eventos lúdicos como um Turá ou Lollapalooza.
O objetivo é claro: em um mercado em recuperação, um nome grandioso e cinematográfico faz sentido. Mas, como questiona a CEO do Promoview, Cindy Feijó, em sua postagem no LinkedIn: essa “festivalização” chegou longe demais? Estaríamos vivendo um novo formato ou apenas uma nova embalagem?
O que faz um festival, de fato, ser um festival?

Em seu artigo acadêmico de 1987, pela Universidade de Brown, o antropólogo italiano Alessandro Falassi definiu “festival” como “uma ocasião social recorrente periodicamente, na qual, através de múltiplas formas e uma série de eventos coordenados, todos os membros de uma comunidade participam direta ou indiretamente, em vários graus“. Ele enfatiza que essa comunidade é unida por laços étnicos, linguísticos, religiosos, históricos e compartilha uma cosmovisão.
Nesse contexto, embora eventos como Lollapalooza e The Town se alinhem à visão de Falassi, celebrando a música, a arte e uma identidade cultural específica, a comparação com eventos corporativos como o Universo TOTVS (aqui, apenas como um exemplo pois, fazendo a mea culpa, não tem “festival” no nome) revela nuances.
Ambos podem ser tradicionais, ter públicos engajados e valores reconhecidos. No entanto, o cerne da distinção reside no propósito e na natureza da comunidade. Para Falassi, o festival transcende o comercial. Ele opera num “tempo fora do tempo”, com ritos que vão desde a purificação e a inversão simbólica de papéis até o consumo conspícuo e competições que reforçam mitos e valores coletivos. O festival existe para reafirmar a identidade e vitalidade de uma comunidade, celebrando preferências em comum e reforçando essa premissa em uma participação orgânica.
Um evento corporativo, por sua vez, tem a premissa de engajar clientes, gerar negócios e criar capilaridade comercial para marcas. Sua “comunidade” é uma rede de interesses profissionais, não um grupo com uma cosmovisão cultural profunda.
Definir “festivalização” é complexo
É impossível negar que muitos eventos corporativos hoje atingem magnitude similar a festivais, com ativações e experiências que buscam o engajamento. Festivais musicais, por outro lado, adotam vertentes corporativas, como o “Learning Journey” do The Town ou o “Unlock” da CCXP, voltados a parceiros de negócio.
O desafio está em que, ao usar a palavra “festival”, o conteúdo do evento muitas vezes se mostra desalinhado ao seu significado original. Um exemplo é a própria Volkswagen e o seu “Volks Festival“.
O evento era originalmente voltado à comunidade de fãs, com test drives e exibições de carros. Contudo, em certo ponto, a própria marca promoveu o evento, efetivamente transformando-o em um saldão de vendas. Isso desvirtuou o propósito de experiência e comunidade dos entusiastas? É difícil dizer, mas a última edição trazia, ao mesmo tempo, caráter comercial e lúdico, com ativações destinadas a quem só estava ali sem a intenção de comprar algo.
Outros eventos que também flertam com essa brincadeira, como o Festival IPA Day ou o São Paulo Coffee Festival, são focados na experiência de produto — cerveja e café, nos exemplos citados. E mesmo a presença de entretenimento é algo secundário, o que levanta ainda mais dúvidas quanto à definição da palavra.
Há espaço para ambos, mas opiniões dividem a indústria de eventos

No fundo, fãs e públicos buscam experiências gratificantes e senso de pertencimento. Comunidades como a das corridas de rua, por exemplo, demonstram essa coesão e são capitalizadas por marcas esportivas como adidas ou Asics, que criam eventos com forte apelo. No entanto, essas marcas não os chamam de “festivais”. Por quê?
Como a CEO Cindy Feijó aponta, há um risco de “gerar uma expectativa que nem sempre é correspondida” ao usar o termo “festival” indiscriminadamente. Afinal, se todo evento se diz um “festival”, então o conceito em si não corre o risco de se tornar vazio?
Pesquisas como o Mapa dos Festivais indicam que articipantes de grandes eventos culturais hoje buscam consumir experiências e ativações, não apenas o line-up. Isso sugere que a “experiência” é chave em ambos os universos. Eventos corporativos têm recorrência e geram comunidades de entusiastas de produtos. Eles investem pesado em ativações e engajamento. Mas, a motivação principal para a participação em um evento de trade ainda é a geração de negócios e a capilaridade comercial.
A “lei máxima” do mercado diz: “se algo existe, é porque tem quem compre”. Mas a “festivalização” nos eventos corporativos levanta uma questão essencial para o futuro da indústria: o seu evento é algo que faz os visitantes pensarem em colocá-lo “religiosamente” na agenda do ano seguinte, como parte de sua identidade e ritos? Ou é, primariamente, uma transação comercial com embalagem mais atraente?
A resposta a essa pergunta é cada vez mais complexa. Ela determina se estamos planejando um evento de trade… ou um verdadeiro festival.